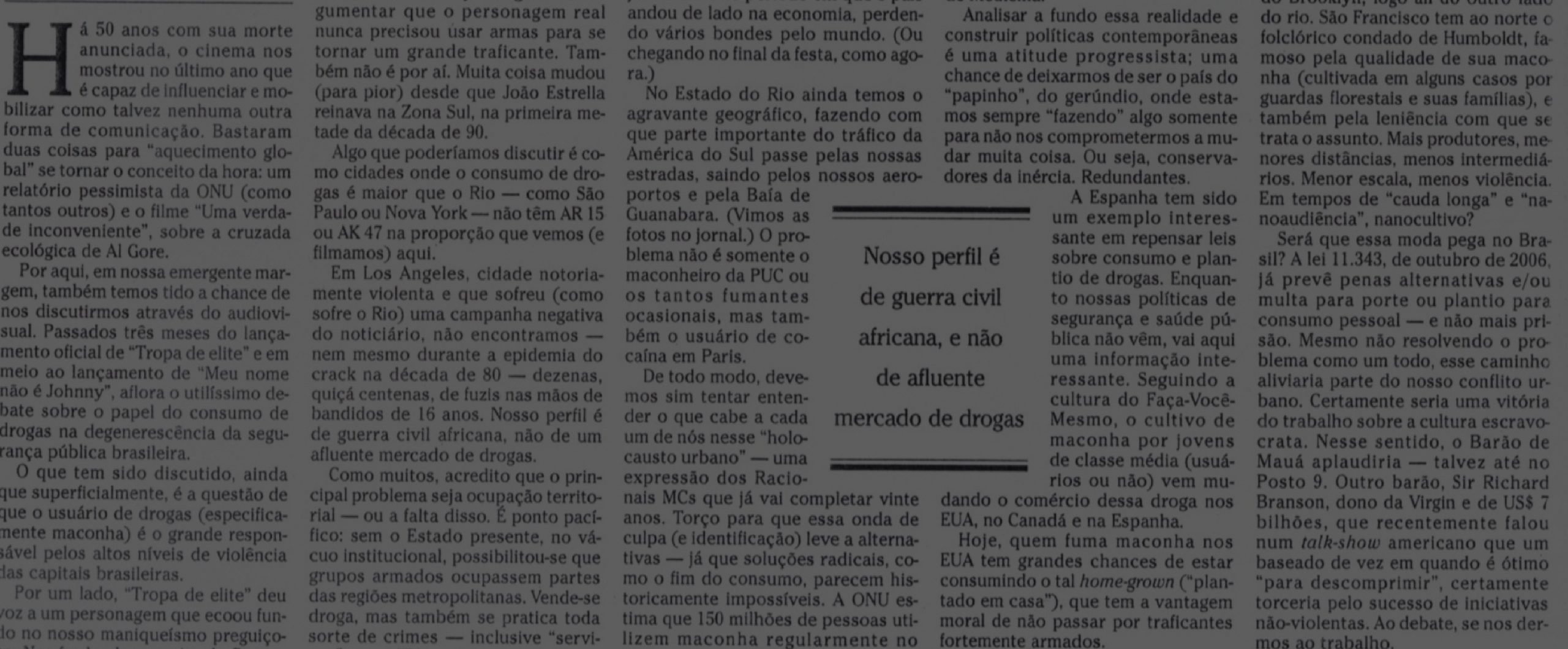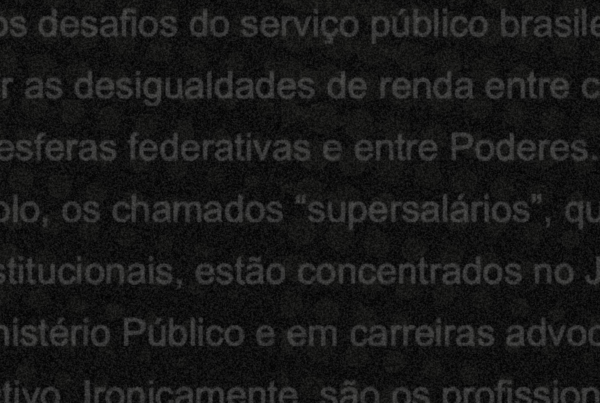Por Guilherme Coelho
Publicado no jornal O Globo em 06 de Junho de 2008
Há 50 anos com sua morte anunciada, o cinema nos mostrou no último ano que é capaz de influenciar e mobilizar como talvez nenhuma outra forma de comunicação. Bastaram duas coisas para “aquecimento global” se tornar o conceito da hora: um relatório pessimista da ONU (como tantos outros) e o filme “Uma Verdade Inconveniente” sobre a cruzada ecológica de Al Gore.
Por aqui, em nossa emergente margem, também temos tido a chance de nos discutirmos através do audiovisual. Passados três meses do lançamento oficial de “Tropa de Elite” e em meio ao lançamento de “Meu Nome Não é Johnny”, aflora na imprensa e nos bares o utilíssimo debate sobre o papel do consumo de drogas na degenerescência da segurança pública brasileira.
O que tem sido discutido, ainda que superficialmente, é a questão de que o usuário de drogas (especificamente maconha) é o grande responsável pelos altos níveis de violência das capitais brasileiras. Por um lado, “Tropa de Elite” deu voz a um personagem que ecoou fundo no nosso maniqueísmo preguiçoso. Nos fez lembrar o pito de Cazuza, “te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro”, contra aqueles que querem ao mesmo tempo confundir e encontrar respostas fáceis. Sobre “Meu Nome Não é Johnny” chegou-se a argumentar que o personagem real nunca precisou usar armas para se tornar um grande traficante. Também não é por aí. Muita coisa mudou (pra pior) desde que João Estrella reinava na Zona Sul, na primeira metade da década de 90.
Algo que poderíamos discutir é como cidades onde o consumo de drogas é maior que o Rio, como São Paulo ou Nova Iorque, não têm AR 15 ou AK 47 na proporção que vemos (e filmamos) aqui. Em Los Angeles, cidade notoriamente violenta e que sofreu (como sofre o Rio) uma campanha negativa do noticiário, não encontramos – nem mesmo durante a epidemia do crack na década de 80 – dezenas, quiçá centenas, de fuzis nas mãos de bandidos de 16 anos. Nosso perfil é de guerra civil africana, não de um afluente mercado de drogas.
Como muitos, acredito que o principal problema seja ocupação territorial – ou a falta disso. É ponto pacífico: sem o Estado presente, no vácuo institucional, possibilitou-se que grupos armados ocupassem partes das regiões metropolitanas. Vende-se droga, mas também se pratica toda sorte de crimes – inclusive “serviços” como TV a cabo pirata. Isso tudo num contexto de explosão demográfica, da qual pouco falamos. Partimos de “90 milhões em ação” em 1970, para 185 milhões – justamente no período em que o país andou de lado na economia, perdendo vários bondes pelo mundo. (Ou chegando no final da festa, como agora.)
No Estado do Rio ainda temos o agravante geográfico, fazendo com que parte importante do tráfico da América do Sul passe pelas nossas estradas, saindo pelos nossos aeroportos e pela Baía de Guanabara. (Vimos as fotos no jornal.) O problema não é somente o maconheiro da PUC ou os tantos fumantes ocasionais, mas também o usuário de cocaína em Paris.
De todo modo, devemos sim tentar entender o que cabe a cada um de nós neste “holocausto urbano” – uma expressão dos Racionais MCs que já vai completar vinte anos. Torço para que esta onda de culpa (e identificação) leve a alternativas – já que soluções radicais, como o fim do consumo, parecem historicamente impossíveis. A ONU estima que 150 milhões pessoas utilizem maconha regularmente no mundo hoje. No Brasil, 8,8% da população já experimentou maconha segundo um estudo de 2005 do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, da Escola Paulista de Medicina.
Analisar a fundo essa realidade e construir políticas contemporâneas é uma atitude progressista; uma chance de deixarmos de ser o país do “papinho”, do gerúndio, onde estamos sempre “fazendo” algo, somente para não nos comprometermos de fato com nossos tantos desafios. Ou seja, conservadores da inércia. Redundantes.
A Espanha tem sido um exemplo interessante em repensar leis sobre consumo e plantio de drogas. Enquanto nossas políticas de segurança e saúde pública não vêm, vai aqui uma informação interessante. Seguindo a cultura do Faça-Você-Mesmo, o cultivo de maconha por jovens de classe média (usuários ou não), vem mudando o comércio desta droga nos EUA, Canadá e Espanha. Hoje, quem fuma maconha nos EUA tem grandes chances de estar consumindo o tal “home-grown” (“plantado em casa”), que tem a vantagem moral de não passar por traficantes fortemente armados.
Em Manhattan, chega maconha do Canadá, da Califórnia, mas também do Brooklyn, logo ali do outro lado do rio. São Francisco tem ao norte o folclórico condado de Humboldt, famoso pela qualidade de sua maconha (cultivada em alguns casos por guardas florestais e suas famílias), e também pela leniência com que se trata o assunto. Em Barcelona o plantio para consumo próprio, ou entre amigos, já é um fenômeno cultural. Mais produtores, menores distâncias, menos intermediários. Menor escala, menos violência. Em tempos de “cauda longa” e “nanoaudiência”, nanocultivo?
Será que essa moda pega no Brasil? A lei 11.343 de outubro de 2006 já prevê penas alternativas e/ou multa para porte ou plantio para consumo pessoal – e não mais prisão. Mesmo não resolvendo o problema como um todo, este caminho aliviaria parte do nosso conflito urbano. Certamente seria uma vitória do trabalho sobre a cultura escravocrata. Nesse sentido, o Barão de Mauá aplaudiria – talvez até no Posto 9. Outro barão, Sir Richard Branson, dono da Virgin e de 7 bilhões de dólares, que recentemente falou num talk-show americano que um baseado de vez em quando é ótimo “para descomprimir”, certamente torceria pelo sucesso de iniciativas não-violentas. Ao debate, se nos dermos ao trabalho.