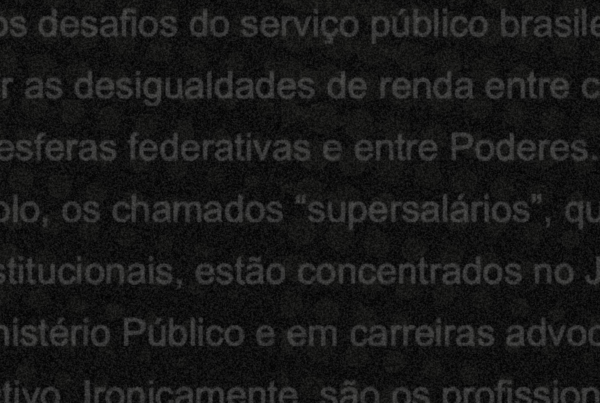Por Guilherme Cezar Coelho
Publicado em 21 de fevereiro de 2024 no jornal O Globo
Filme mais aguardado do Festival de Cannes do ano passado, de onde saiu com o Grande Prêmio do Júri, “Zona de interesse” chegou aos cinemas brasileiros, findo o carnaval. Nada mais anticlimático, sendo um filme sobre o Holocausto.
Indicado a cinco Oscars, o longa de Jonathan Glazer retrata o “contracampo” de Auschwitz: a vida de seu comandante e sua família. Adaptando o livro homônimo de Martin Amis, Glazer enquadra a “normalidade” destas pessoas, ansiosas por status e carinhosas entre si. Ao fundo, distantes, sons de tiros e de gritos. Em uma cena, vemos a esposa do oficial provando joias e casacos de pele confiscados de senhoras judias que seriam mortas.
O filme tem sido muito bem recebido como uma reflexão sobre o totalitarismo, mas peca ao fazer uma dramatização da “banalidade do mal”, termo cunhado por Hannah Arendt ao cobrir o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann em 1961. Hoje sabemos que Arendt se equivocou sobre Eichmann. Diferentemente do que ela relatou, Eichmann não era um ordinário seguidor de ordens. Tinha, sim, iniciativa própria e grande convicção no que fazia, como ficou estabelecido a partir da polêmica suscitada por Arendt.
“Zona de interesse” naturaliza, normaliza e arrisca se apiedar de criminosos. Os monstros também amam, mas e daí? Entender a sociedade alemã à época como uma malta sem pensamento crítico é uma visão estreita e insuficiente. O risco é tudo entender e tudo perdoar. Eichmann, ou o comandante de Auschwitz, só podem ser vistos como burocratas “normais” se esquecermos os agentes públicos alemães que foram banidos ou mortos, a partir de 1933, com a erosão do Estado Democrático de Direito. Sem democracia, nada é banal.
Se em conteúdo “Zona de interesse” não nos apresenta nada de novo, em termos de linguagem cinematográfica o filme também desaponta. Glazer dirigiu o excelente “Sob a pele” com Scarlett Johansson em 2013, mas desta vez se levou a sério demais, sem conseguir a organicidade e rigor de um “A fita branca” (2009), de Michael Haneke, e escorregando em maneirismos como nas cenas com computação gráfica neste novo filme.
Seria interessante se Claude Lanzmann, diretor de “Shoa” (1985) e incontornável pensador sobre representações do Holocausto, ainda estivesse vivo para dar seu veredicto. Provavelmente seria o oposto dos elogios que dedicou a “O filho de Saul”, Prêmio Câmera de Ouro em Cannes em 2015. Este, sim, um filme à altura do maior trauma da História humana até aqui. Um filme sem firula e com respeito por quem merece.
Em 2024 não precisamos de um filme para entender que o nazismo — ou ataques à democracia e a milicialização de um país, estratégias presentes na ascensão do nazifascismo — acontecem (também) por mãos comuns. Não só psicopatas como Eichmann matam. Xucros também o fazem. Gente “comum” que, por oportunismo e canalhice, vai aderindo — e embolsando as joias.
Veja o Brasil, mal comparando. Assistimos ao vídeo de uma reunião ministerial nada normal, com um presidente balbuciando falas desconexas e paranoicas, verde-amarelando para uma eleição. O verdadeiro “cagão”. Paralelamente, o ex-comandante da Marinha, pego tramando um golpe de Estado, reage por nota: “Continuamos juntos na fé, buscando sempre fazer o que é certo, em nome de Jesus.” Banal? Ou apenas cara de pau, blasfemo e boçal?
A isso, o devido processo legal.
ver artigo original