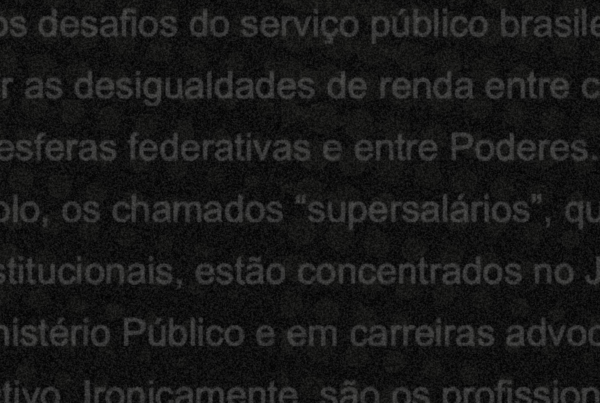Publicado em janeiro de 2023 na revista Trivium – Estudos Interdisciplinares
“Sete mil vezes eu tornaria a viver assim”: aprendendo mais sobre mim ao ver filmes como “Até os Ossos” e me vendo capaz de ter empatia pelo outro — aquele que é de fora, aquela que é estranha, que está em desajuste. Neste caso, os canibais do ótimo filme de Luca Guadagnino.
Impossível não comparar o filme de Guadagnino com o novo de Noah Baumbach, “Ruído Branco”, também em cartaz. Uma besteira, o filme de Baumbach não nos interessa por seus personagens, tampouco por sua trama (que se inicia com um incidente tóxico-apocaliptico — e o abandona).
Macaqueando o sucesso, “de época”, de “Stranger Things” (que por sua vez macaqueava “ET” e “Goonies”), “Ruído Branco” é um desperdício de 90 milhões de dólares. Ao final da sessão, eu calculava: quantos ótimos filmes o coletivo mineiro Filmes de Plástico poderia nos dar com esta dinheirama?
Já “Até os Ossos” é cinema até o fim, sem nunca terminar. Pois o bom cinema, quando é livre, quando é filmado com frescor e vigor, nos eleva e não acaba quando sobem os créditos, se entranha na nossa pele, até os ossos. Não voltamos ao estado em que entramos na sala de cinema. Este cinema com verdade nos coloca na rua com olhos limpos, desobstruídos de clichês, prontos para estar no mundo com mais coragem — e com menos bobagem e neurose. E com fome de vida.
“Até os Ossos” nos pega pelas vísceras com personagens muito familiares (gente à margem) — e sexys: Timothée Chalamet e Taylor Russel. O filme exacerba neles a condição de alteridade (que na tradição narrativa europeia é o judeu, o errante; e hoje, no Rio, poderia ser um morador de rua).
Guadagnino potencializa o conflito universal de não-pertencer ao dar um salto no escuro (nos levando junto numa encenação leve ao mesmo tempo que intencional), colocando seus personagens amaldiçoados por uma condição, para mim, estranha-familiar: são canibais.
Em conversa com a psicanalista Betty Fuks, entendi que o estranho-familiar é definido por Freud como aquilo que nos gera medo porque provém do que é recalcado – o inconsciente. Afeta-nos de modo estranho aquilo que está dentro e fora de nós mesmos — e que, se analisado, pode nos transformar. O filme de Guadagnino me inquietou e me fez pensar no que me é estranho-familiar. (Eu só espero não sair mordendo qualquer um por aí.)
Ou pior. Meu pavor agora é começar a gostar de filmes de gênero fantasioso. Super-heróis, monstros: tudo isso sempre me deu preguiça. Eu gosto mesmo é de drama familiar, gente lidando com gente. Corpete e capa, pra mim, é pra brincar Carnaval. Pra quê ficar dando moral pra mitos, fanfarronices, gratuidades? (Na arte e na política também).
Mas agora não paro de pensar nestes dois canibais. Sente o drama.
Quase “normais”, Lee e Maren, os protagonistas do filme “Até os Ossos”, poderiam ser apenas dois adolescentes ou jovens adultos neuro-divergentes, e à deriva. Também o são. E, além disso, precisam comer gente. Não se controlam. E têm consciência e problematizam isso. E se amam. E acima de tudo, querem pertencer. Como você — e como eu.
Comendo gente, sem limites, agressivos e doces, estes personagens me foram familiares — intimimamente. E também em relação ao Brasil esgarçado de hoje. São pessoas de verdade (ou quase), num filme simbólico que ressoa num mundo tão precarizado, volátil, imprevisível, complexo e ambíguo.
Como na canção de Caetano, gente que quer habitar todos os cantos do ser, em noites de fogo e de paz. Gente com a qual a gente se identifica e que nos ensina sobre nós mesmos. Mesmo comendo outras pessoas — se lambuzando até os ossos.
Ver publicação original