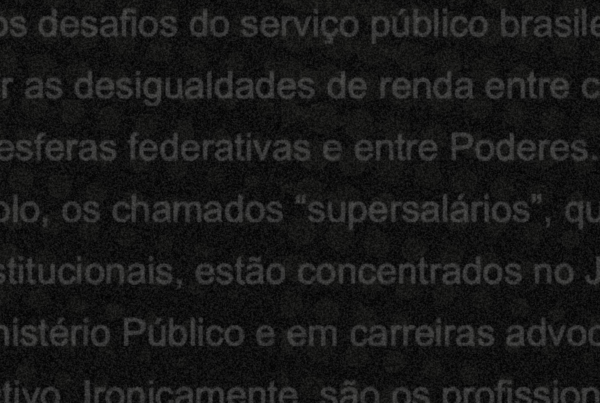Por Guilherme Coelho.
Publicado no DocBlog (Globo Online) em 01 de Agosto de 2008
Se como acredita o Cildo Meireles – muito provavelmente pra reduzir suas obrigações com entrevistas – falar sobre um projeto é uma maneira de não realizá-lo, poderíamos concluir que escrever sobre um filme incompleto é uma forma de enterrá-lo de vez. Surge então o desafio de, em texto, fazer jus ao esforço audiovisual em vão. Não há segundo take.
Há dois anos e meio, em fevereiro de 2006, em companhia do fotógrafo Alberto Bellezia e da produtora Raquel Zangrandi, parti para filmar um guru indiano e dois milhões de seus seguidores em Bangalore, na Índia. Foi tudo muito inusitado. A decisão mesmo de ir só foi tomada 24 horas antes de embarcarmos num elegante Rio-Paris. Relendo meu diário de bordo, agora vejo que foi mesmo fantástico, com tintas surrealistas.
Um começo auspicioso: “Jumbão dos bons. Sobrevoamos o Atlântico agora, e ainda iremos cruzar uns outros dois mares até chegar a Bangalore, cidade de 7 milhões de habitantes, o Vale do Silício da Índia, país-fetiche hoje do mercado mundial.” Davos havia declarado 2006 como o Ano da Índia; da mesma forma que torcemos para que, em 2008, com o subprime se mantendo longe e as commodities em alta, seja o ano do Brasil. Daí a excitação de filmar na Índia, e logo em Bangalore, a capital da tecnologia da informação (TI) e da terceirização. Filmar um líder espiritual no centro dos call centers do mundo. Isto, mais que as encomendas de incenso ou o bom livro-guia Índia – Um Olhar Amoroso do Jean Claude Carrière, nos animava a embarcar nessa viagem. A título de digressão, por falarmos em Carrière, atribuem ao Buñuel uma ótima frase que, ajustada, talvez explique o insucesso dessa aventura: “A China, do alto de sua cultura milenar, não tem nada a ver comigo”.
Mas esse filme não era pra mim. E não era mesmo. Quando me reuni com três entusiastas da ONG Arte de Viver (www.artofliving.org), eles vinham indicados por um outro diretor, a quem eles já haviam proposto o projeto. Engoli o orgulho que me restava, enquanto eles argumentavam pela importância do evento que ocorreria dali a menos de dois meses, do outro lado do mundo: o aniversário de 25 anos da ONG, e de 50 anos do guru.
Comprei a briga. Nosso dispositivo era simples: filmar durante um ano, em cinema-direto, sem intervenções, um guru fusion que, segundo nos diziam, usava blackberry, celular e andava de helicóptero. Em 2006 ele era um dos 53 indicados ao prêmio Nobel da Paz. A “oposição” sustentava que ele nunca receberia a láurea, por ser muito “midiático.” Nosso tesão era filmar de perto uma divindade indiana – essa tradição que virou produto. Através de suas relações com seguidores e críticos, tentaríamos revelar as muitas matizes e contradições que imaginávamos caber ali.
Tudo parecia ótimo, até que o financiamento que esperávamos não se confirmou. Por ser filmado fora do Brasil não poderíamos usar as leis de incentivo. Tão pouco poderíamos aceitar ajuda do Arte de Viver, sob o risco de nos obrigarmos a fazer um filme edificante. Abruptamente, ficamos sem chão. Em meio à produção do PQD e vindo de uma experiência frustrada, em termos financeiros, com o Fala Tu, a nossa produtora, Matizar, agia então com bastante “aversão ao risco” – como dizem os economistas. Depois de muitas idas e vindas, caras-ou-coroas e uma indecisão de matar qualquer agente de viagem de ódio, decidimos não ir. Isto depois de conseguirmos visto em tempo recorde, e garantir passagem aérea (Bangalore estava recebendo 2 milhões de visitantes para o evento do Guru. Imagine a dificuldade de encontrar espaço nos vôos). Mas estava decidido: não iríamos, é muita loucura, nenhuma garantia de nada. Ninguém podia nos dizer se de fato o Guru nos daria o acesso que pretendíamos, etc. Quem estava certo era o Maurício Andrade Ramos, que com sua infindável reserva de sensatez, achava aquilo tudo complicado demais para dar certo.
No entanto, três dias antes da data que deveríamos partir, num cair de tarde, me jogaram na cara que eu estava agindo como um engenheiro, fazendo cálculos demais. Achei até um elogio, um sinal de que eu não era um porra-louca completo. Só para em seguida ficar atordoado. Será que eu estava me levando a sério demais, querendo ter um filme antes de filmá-lo? Como sabemos, a porra-louquice sempre teve seu papel no cinema. (Pelo menos para nos dar a ilusão de estarmos fazendo cinema.) Bem, fomos. E conosco o lucro que a Matizar teria aquele ano.
O homem, a técnica e seu mundo
Sri Sri Ravi Shankar é um guru contemporâneo. Por ser homônimo do famoso músico de cítara, utiliza-se o “Sri Sri” antes de seu nome, indicando santidade. Há cinqüenta e dois anos nasceu em berço de ouro, mas esse não é começo da narrativa oficial. O fato de sua origem aristocrática ser largamente desconhecida dentro da Arte de Viver talvez indique que lá, como aqui, ser rico não é visto com bons olhos. Era de seu avô a bela mansão de tijolos vermelhos que hoje abriga a biblioteca municipal, no centro do mais frondoso parque de Bangalore – cidade que é conhecida na Índia pelos seus jardins. Guru Ji (“Guru Querido”) foi recrutado ainda muito cedo (com 5 anos de idade, dizem) por Yogi Maharish, célebre guru dos Beatles e o grande responsável pela introdução da meditação transcendental no ocidente. Reza a história que, aos 25 anos de idade, sendo braço direito de Maharish, Ravi Shankar largou o mestre para se dedicar a um orfanato abandonado. Algum tempo depois, durante um retiro de dez dias, em silêncio e só, desenvolve a técnica de respiração Sudarshan Kriya após perceber como diferentes ritmos de respiração podem influenciar o corpo e a mente. Acreditando poder ajudar pessoas a lidar com sofrimentos, traumas e fobias, ele começa ensinar o método. O ano, 1982.
Hoje em dia, técnicas de respiração estão para nós como a meditação transcendental esteve para os anos 70. É cool – pra quem é entendido do assunto. (Devemos lembrar que a yoga é basicamente um exercício de respiração, inclusive emprestando técnicas ao Sudarshan Kriya). Hoje, a ONG Arte de Viver, fundada como um instrumento para o ensino dessa técnica de respiração, é também um gigante do assistencialismo global, levando auxílio para vítimas de tragédias por todo o mundo. Eles dizem ter sido a primeira ONG a socorrer sobreviventes do Tsunami em 2004, devido à proximidade geográfica. Dias depois ao 11 de Setembro, a ONG colocou anúncios de página inteira no New York Times oferecendo gratuitamente o curso básico do Sudarshan Kriya aos moradores da cidade, numa ação que a fez conhecida de muitos nova-iorquinos. O Arte de Viver ministra ainda cursos em prisões da África do Sul, Iraque e Paquistão; mas também em São Paulo e no presídio Talavera Bruce, no complexo de Bangu – onde filmamos no final de 2006. Naquele ano, um dos objetivos da ONG era realizar cursos de respiração em favelas brasileiras.
Com três ashrams, ou campi, em Bangalore, Floresta Negra (Alemanha) e Canadá; agindo sob a liderança autocrática de Ravi Shankar, a ONG Arte de Viver se apóia na dedicação de voluntários. Segundo eles, no mundo todo são vinte milhões de seguidores, com os mais diferentes níveis de envolvimento – onze milhões deles só na Índia. Apesar do Arte de Viver ter sido citado no último (ou penúltimo) filme do argentino Daniel Burman (para o meu delírio na sala de cinema), a América Latina é onde a ONG tem menor presença. Hoje no Brasil são dezessete instrutores, mas há dois anos haviam apenas dois, e todo o trabalho era coordenado por uma única pessoa, Eng-An Chou. Chinesa de Taiwan, crescida na Argentina, Eng-An conheceu o Guru Ji numa palestra em sua faculdade, em Boston. Fez o curso, começou a se envolver, e hoje é uma de suas principais colaboradoras. Em 2006, seu apartamento no Rio tinha sido mobiliado basicamente com presentes e empréstimos de seus alunos cariocas.
Não seria exagero chamar de indústria a tradição indiana de gurus e ashrams. Há quarenta anos, Maharish inventou o guru pop, virou franquia, e tem negócios que vão de editoras a parques temáticos esotéricos. Em 2006, sua fortuna pessoal era estimada em US$ 3 bilhões. Em 2000, teve um projeto com o brasileiro Mario Garnero para construir no centro de São Paulo o maior prédio do mundo: 108 andares somando 494 metros de altura. Irrefreável, foi motivo de chacota quando, após os ataques às Torres Gêmeas, solicitou ao governo Bush uma soma astronômica de dinheiro para contratar 40 mil yoges voadores (“flying yogas”) que, com seu alto poder de concentração, seriam capazes de afastar novas ameaças terroristas. (O incrível é que, aparentemente, existem, sim, esses tais yoges voadores, capazes de levitar durante a meditação).
Outra história curiosa é a de Rajneesh. Com ashram na cidade de Puna, na Índia, Osho – como preferia ser chamado – andava de Rolls Royce pela Europa e foi hit na Zona Sul carioca dos anos 80. Preso por fraude nos EUA, suspeita-se que tenha sido envenenamento a causa de sua morte, em 1990.
O filme que não vingou
De volta ao filme e à balbúrdia das minhas anotações, nosso vôo chegou a Bangalore às duas da manhã, “[f]ui dormir às cinco e acordamos às oito. Uma noite horrorosa. […] Lá pelas seis da manhã fui acordado por um cântico, um mantra, alto mas distante, e ainda ameaçador. Parecia aquelas cenas de Ku Klux Kan. [sic] Achei que estavam vindo me pegar. O que será que eu fiz? Só porque viemos filmar um guru sobre o qual quase nada sabemos? Só porque não fizemos o curso do Art of Living? Não sei. Tive medo. Agora, ao final do primeiro dia de filmagem (rodamos 2 horas em HDV), tenho medo é de não ter acesso ao Sri Sri. Vamos ver. Amanhã temos uma possível reunião à nove da manhã, para discutirmos como fazer o filme. […] Hoje mais cedo filmamos aleatoriamente (e mal) a chegada dos estrangeiros. Realmente, parecia a ONU. Uma quantidade e variedade de estrangeiros. Muitos jovens, o que é surpreendente. Tem um grupo de teenagers da Lituânia. As coisas por lá devem estar meio paradas. Algumas garotas bonitas, alguns garotos fazendo charme para elas. Muitos americanos, como sempre. Pessoas que você tende a respeitar falando do Guruji como um messias mesmo. (Hoje ganhamos um livro sobre seu nascimento e infância: “Birth and Young Life of the Messias“. Se pegar, pegou). Um grupo de russos toma suco de laranja na mesa à minha frente. É meia noite e meia. Muito barulho vindo do templo (será essa a palavra?) central. Hoje entramos lá depois do almoço, uma verdadeira praia. Pessoas conversando, deitadas, dormindo, falando no celular, mexendo em laptops. […]”
Jurando fidedignidade às minhas anotações, nosso primeiro encontro com o guru: “no caminho para o dinning hall, vimos o Guruji chegar, descer do seu carro, “how do you do?“, um aperto de mão meia-bomba, será que era para eu estender a mão? Raquel e Albertinho fazem o mesmo, mas mais ninguém. Albertinho acha que eu menti, mas juro que senti uma energia naquela pequena e ágil aglomeração ao lado de seu sedan [carro]. Foi como se as coisas se clareassem. Menos por ele, mais pelas pessoas, e suas esperanças e expectativas. Gostaria de poder filmar isso. O encantamento de gente comum, [e também] advogados, economistas, pós-graduados, empregados de TI das Lojas Americanas [local]. Isso poderia ser um novo tom, algo orgânico à linguagem do filme. Esse encantamento, esse clareamento, bem que poderia percorrer o filme, como um rio. […]”
Esse deslumbramento com o etéreo já era algo que vínhamos cortejando. Numa anotação preparatória para a viagem, escrevi: “Tentar um tom para o documentário que expresse organicamente esse “sentimento” de encantamento. Será que conseguimos filmar isso? Ou [talvez] virar um Doc Poltergeist.” Com essas pretensões, esse filme não podia ir mesmo adiante.
Enquanto nosso encontro com o guru não vinha, tocávamos a vida. Tínhamos que fazer uma média, o que o Albertinho e o Leandro Lima (técnico de som) chamam de “Chapa 13” – uma filmagem para agradar alguém, sem o propósito de usar na edição final e, não raro (num ato de extrema canalhice), algumas vezes sem ao menos acionar o rec. Escrevi então, “[d]epois do almoço e de algum atraso embarcamos num micro-ônibus com uns jornalistas italianos sem loção e escalamos uma hora e meia de pedregulhos até o Vista (V… I… S… To All Women, como explicou o Pita Ji, pai do Guru Ji.) Mas cadê o “W” para as “women”? Estranho. Ninguém parece ter notado sua falta. Estava [eu] à vontade, disfarçado de indiano, pé no chão, e cismei de filmar os italianos filmando. Eles não tinham noção do que faziam. Eram brifados por Pia, jornalista dinamarquesa deprimida, e essa italiana cheia de vida improvisava passagens sobre as diferentes cooperativas que o Guru Ji montou para estas mulheres de um povoado rural, a uma hora e meia de Bangalore. Assistencialismo mesmo. Meio paradão também. Ninguém parecia muito animado, ninguém vendendo muito a idéia. Nenhuma mulher trabalhando nesta segunda-feira de fevereiro.
Mas o Pita Ji (Pai Querido) estava lá para dar seu depoimento para duas câmeras Sony (voltamos a filmar depois de acabar a bateria). Mas antes ele nos expulsou de sua sala, nos mandando fazer um tour pelas instalações, logo depois que a dinamarquesa orgulhosamente lhe entregou alguns impressos dizendo: “Remember? Last time? Two articles, two articles”. Ele olhou bem, talvez lendo o original ou uma tradução, e nos mandou seguir a moça. “She has important things to show you”. Quando voltamos foi um festival, um verdadeiro desfile de obviedades. “‘O amor preenche o humano… Life through love, Knowledge through experience, Justice through Mercy’. E a repórter italiana segurava o microfone e balançava a cabeça em aprovação o tempo todo. Todos adorando. […] Que frio faz aqui […]. Será que podem roubar meu computador do quarto, quando estivermos filmando amanhã?”
Pausa rápida por medo de estarmos confundindo o leitor com um sarcasmo ou cinismo que, na verdade, não foram forças motoras neste processo. As dúvidas e ironias que o diário revela nos servem para mostrar nosso estado de espírito, um certo estranhamento tão necessário à boa observação. Mas o cinismo não contribui em nada à boa comunicação, como acredita o professor Theodore Glasser ao analisar o jornalismo americano contemporâneo. Já o ceticismo, sim, isto nos leva pra frente. Não fomos à Índia para pegar o Guru no contrapé, ou para revelar algum grande truque transcendental. Se houvesse essa chance, não teríamos ido. Tenho tentado fazer documentários de personagens porque acredito que o grande desafio é fazer filmes em compromisso com as pessoas, e não contra elas. Na pesquisa preparatória já havíamos nos certificado de que não havia na Arte de Viver nada explicitamente desabonador ou cafajeste. Muito pelo contrário. Apesar de compreensíveis restrições a um assistencialismo social praticado por uma entidade espiritual, reportagens do Los Angeles Times e de outros veículos argumentavam pela importância das ações deles, principalmente em cenários como o pós-Tsunami.
Quanto ao poder da técnica do Sudarshan Kriya, nossa pesquisa levantou dados bastante interessantes. À época da filmagem, o principal defensor deste método de respiração na comunidade médica norte-americana era o Dr. Richard Brown, professor adjunto de psiquiatria clínica da Universidade de Columbia, que conheceu a técnica através de um curso no centro do Art of Living no bairro de Chelsea, em Manhattan. Na verdade, descobrimos que técnicas de respiração são uma nova fronteira médica, ainda pouco explorada. Por não serem “medicáveis”, e muitas vezes substituírem remédios, os efeitos de técnicas de respiração não são objeto de pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas farmacêuticas. Apesar disso, a comunidade científica já credita a práticas como Sudarshan Kriya, Yoga e Tai-chi-chuan, a redução da pressão arterial, diminuição de ansiedade, e melhora do sistema imunológico. Nas palavras do Dr. Brown, “[certos] exercícios de respiração não apenas acalmam o sistema que responde ao estresse, que é o que antidepressivos fazem, mas também ativam a sua recarga, curando [healing] parte do sistema nervoso.” E a onda aos poucos vai pegando. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, em 2006, 12% dos norte-americanos já haviam praticado algum exercício de respiração.
No entanto, o que mais nos convenceu da integridade da ONG Arte de Viver foi a grande quantidade de voluntários de bom nível educacional que estavam ali em Bangalore, trabalhando 14 horas por dia, dormindo em beliches, ajudando na celebração dos 25 anos de uma missão a qual eles julgavam pertencer. Lembro-me bem de uma noite, véspera do primeiro dia do Jubileu, em que fiquei de plantão no centro de visitantes estrangeiros, à espreita pelos valiosos crachás que davam acesso ao palco. Engrenei num ótimo papo com um jovem americano de Washington DC, filho de indianos, médico e pesquisador, e que todos os anos tirava férias para se dedicar duas semanas ao Arte de Viver.
Quem lotava o ashram naquela semana não eram os desassistidos, indianos ou não, impactados pelas atividades assistencialistas da ONG. O que víamos era uma classe média-alta, ilustrada, do Vale do Silício, de Jacarepaguá, da África do Sul e da Rússia. Todos como numa colônia de férias solidária. Haviam oito mil pessoas hospedadas ali (a maioria, precariamente). Muita gente ficava nos arredores e só vinha visitar, principalmente indianos, claro. Houve um dia em que foram servidos 12 mil almoços, e noutro, 14 mil jantares. Fã de comida apimentada, e decidido a curtir as filmagens (pelo menos isso), deixei a vida me levar em alguns momentos. No quarto dia, após comer com a mão, sentado no chão, como manda a tradição, escrevi, “[o] almoço foi maravilhoso: feijão picante e doce, uma salada bem aguada de iogurte, e um vegetal com curry. Muito bom. O clima estava ótimo, e recarreguei minhas energias para a filmagem, e esperanças para o ser humano. Muito astral ver todo mundo lavando os seus pratos, um sentimento valioso de comunidade. Lembro ter falado com a Raquel, ‘não importa se é utópico. É claro que é impossível organizar uma sociedade assim. Mas o bacana é estarmos fazendo isso, estarmos vivendo esta experiência'”. Talvez tenha sido bom mesmo não continuar o projeto.
Mas voltemos no tempo, às filmagens e ao Guru. Enfim, ficamos a sós com ele. Foi no terceiro dia. “Um dia esplêndido. Não poderia ter começado melhor, as dez da manhã entrei num helicóptero com o Guru Ji, sobrevoamos toda Bangalore, pousamos no aeródromo para inspecionar onde serão as cerimônias do Jubileu. Fantástico, um Jet Ranger, ótimo, vermelho, voado por um indiano de turbante! Ótimas imagens de Bangalore, essa cidade monstro, 6a maior da Índia. Bombaim, Déli e Calcutá são as três primeiras. Houve uma cerimônia religiosa em parte do aeroporto, havia somente indianos. Muito bom, mas a câmera ficava dando problema de diafragma. Interessante, o Guru Ji pediu para eu ir na frente dele enquanto ele entrava na cerimônia. Saímos de lá, eu sempre de carro com ele, subindo e descendo”. Fiquei imaginando, como plano de abertura para o filme, uma tomada panorâmica dessa aérea chegando no Guru de headfone, sentado ao lado do piloto de turbante. Grandiloqüência.
Talvez a coisa que mais nos incomodava, e que poderia comprometer a aceitação do filme por um público leigo, era a idolatria. Ao mesmo tempo em que víamos pessoas bacanas, arejadas, participando dos Satsangs (cerimônias em grupo) e dos cursos de respiração, ouvíamos estarrecidos relatos destas pessoas sobre a divindade do Guru Ji, reservando-lhe mesmo um papel messiânico. Isso nos perturbava, pois podia imprimir como fanatismo, o que na realidade não era. Queríamos filmar um Guru moderno, dialogando sem costuras com o Ocidente. Me interessava demais o seu perfeito comando da língua inglesa, e seu pragmatismo e auto-confiança, o que me remetia diretamente aos EUA. Por isso era surpreendente constatar que freqüentemente ultrapassava-se a tênue linha entre um carinho especial por um mestre, e o bom e velho culto à personalidade. Mesmo quem estava alerta a esse risco, algumas vezes – aos nossos olhos – caía em contradição, partia para o irracional. Porque, de novo, não estávamos ali para fazer um filme contra o Guru, e também não estávamos ali para fazer um filme idealizando-o. Tivemos o saudável medo de corroborar com essas opiniões, já que não pretendíamos ouvir pessoas de fora, que possivelmente poderiam propor contrapontos. Nosso filme era para ser contado “de dentro”, e tínhamos medo da idolatria atrapalhar o “embarque” do espectador.
A questão do dinheiro para sustentar a ONG também era um tema espinhoso, embora ao fim não tenhamos nos sentido tão desconfortáveis como em relação ao culto à personalidade. Olhávamos para o que parecia um campus de faculdade americana, aquele oásis à indiana, asséptico e funcional, e nos perguntávamos como aquilo era financiado. Filmamos uma entrevista do Guru Ji para o canal France 2 – perguntas duras, inclusive – e ele falou bem sobre o assunto. Doações do mundo todo, principalmente da Alemanha (o que eu acredito), e muito trabalho voluntário (o que, de fato, testemunhamos).
Em um dos dias, estávamos na frente da casa onde o Guru recebia as pessoas, e nos apontaram um americano como sendo um de seus principais filantropos. Fui falar com ele, sem a câmera, para saber mais. Era um investidor de venture capital (capital de risco) do Vale do Silício californiano, cuja mulher foi curada através dos exercícios de respiração, de alguma doença braba (ele não me disse, mas me falaram em câncer). Todos os anos desde então ele visita o Guru. Quando pedi para conversar com ele com a câmera ligada, ele se escusou, dizendo que seus co-investidores não compreenderiam a sua relação com o Guru Ji. Hipocrisia americana, como gostamos tanto de apontar? Acho que não. Pareceu-me um cara normal, ciente de que sound bites, ou uma conversa de quarenta segundos ou dois minutos, não consegue dar conta de uma relação espiritual. Voltando ao tema anterior, talvez tenhamos sido injustos em alguns casos, ao reduzir racionalizações complexas à simples idolatria.
Acho que foi no Festival do Rio de 2006 que passou o filme “O Grito das Formigas” do imenso Mohsen Makhmalbaf. Em determinado momento, nesta história de um casal de iranianos viajando pela Índia numa jornada espiritual, alguém sentencia, “o problema é que as pessoas vêm à Índia procurando as coisas erradas”. Isso foi música pros meus ouvidos. Sintetizou minhas restrições a muitas pessoas do Arte de Viver. Nós, sempre carentes e sempre em buscas, tantas vezes esperamos mais das coisas e dos outros do que é razoável. O que presenciamos na Índia foi exatamente isso: algumas daquelas pessoas querendo que uma técnica de respiração se transformasse em código de ética, em filosofia; e que o Guru Ji resolvesse todos os seus problemas, e em seguida, os do mundo. Aí, claro, não falta espaço pra lugares-comuns. O clichê é popular porque é muito útil; comunica fácil.
Em tempo: este filme, “O Grito das Formigas”, apesar desta frase que me serviu como epifania, é desinteressante ao limite. Não honra o grande cinema do Makhmalbaf, e só nos serve pra mostrar que o diretor que se levar muito a sério nesta atividade sisífica, vai sofrer bastante. (Talvez aí, então, uma viagem à Índia seja útil).
O momento em que senti mais afinidade com o Guruji durante as filmagens, foi também nosso momento de maior (e único) estresse. Escrevi: “Erramos e filmamos uma americana desesperada chorando para o Guru, destruída mesmo. Ela depois me deu um esporro. ‘Why was he filming? It’s devastating. It’s so rude to film when someone is devastated.‘ Bem, pagamos o preço, veremos. O resto do dia foi muita expectativa não cumprida. Entramos com ele numa reunião com instrutores, só para sermos expulsos logo depois. Ele foi dar uma entrevista para uma TV indiana na casa da irmã, mas não pudemos entrar. Antes do almoço, o Denish (assistente dele, altão, cabelo grande) nos mandou voltar depois de comer. Quando voltamos ele estava dormindo. Fomos à cantina, e quando vimos, ele já tinha saído. Aparentemente, ele foi de helicóptero inspecionar as obras.”
Ao fim desse dia, a Eng-An nos ligou no quarto, dizendo que o Guru queria nos ver. Corremos pra lá, culpados. “Tentei entrar [na casa/escritório] junto com a delegação argentina, mas fomos barrados. Logo depois, o gordinho legal de turbante nos mandou entrar. Filmamos um pouco, mas foi o momento do conversarmos sobre o filme. […] comecei a falar sobre cinema direto, sobre confiança mútua. Ele já sabia de tudo. ‘I know, I know.‘ Quando fui falar sobre o “olhar” e ali eu pensei que eu ganharia ele, falando do olhar respeitoso, honrado, de igual para igual. Ali ele me interrompeu para reclamar de termos filmado a moça chorando pela manhã. ‘It was a mistake. I apologized to her, and we will not use it‘. Acho que fui bastante sincero e pronto na resposta, o que parece ter lhe agradado. Dali, emendei dizendo que precisamos estar perto dele all the time, or most of the time. ‘I know, I know.‘ De repente o silêncio, e nosso tempo tinha chegado ao fim. Pensei se deveria falar ou não, e mandei ver: ‘So, let’s make the film?‘, ‘Ok.‘ Fiquei satisfeito. Me pareceu um acordo. Ficamos ainda ali, sentados agora no fundo da sala, comendo o bolo que ele nos deu, e vendo os despachos da noite, junto com muitos outros admiradores. Não filmamos, o que foi acertado. Na saída falamos com a secretária dele, Jaima, e combinamos para nove da manhã do dia seguinte, ‘and we’ll see it from there.‘ […] Saindo da sala do Guru Ji, já estávamos animados de novo. Como disse a Raquel, o dia foi muito interessante nisso. Colocaram-se questões tão caras ao documentarista. A questão do acesso, do que filmar, e do que não filmar. […] Que bom que fechamos o círculo, e as coisas parecem ter se resolvido. ‘Veremos amanhã’, esse tenebroso lema documentalista“.
O dia seguinte, véspera dos três dias de celebração, foi um desastre. Anotei: “Summer School meets Detox meets 60’s nostalgia.” Raquel ficou horas – descalça – na fila da única loja do ashram, tentando comprar um cartão para o celular pré-pago. Na volta nos presenteou com a pérola, “meu pezinho não é pra ser grosso. Ele é macio!” Muitas dúvidas: “como fazer um filme com conteúdo interessante, quando o discurso do cara é cheio de obviedades? Nos parece que o grande lance dele é a respiração, mas isso não se filma. […] Raquel não agüenta mais.”
Como freqüentemente acontece em filmagens de documentários sem roteiros prévios, uma aura bipolar nos rondava. No dia seguinte: “Primeiro dia do Jubileu. Estamos felizes. Essa é a palavra. Achamos que estamos numa primeira fase de um filme que pode ser interessante para o público e instigante para nós. Um olhar brasileiro sobre um fenômeno indiano global. Comercial line: Totally BRIC. Será que o Goldman Sacks se interessaria?! […] Hoje à tarde, a partir das 18hs testemunhamos o maior espetáculo que eu já vi. Dois milhões, um milhão, não sei quantas mil pessoas […] de frente para o maior palco que eu já vi (e que nem era cafona!). […] Jantamos no hotel Taj West End, foi muito agradável. Que falta que faz um vinho. Gostaria de poder tomar dois copos para conversar com o Guru Ji sobre este filme. […] (Att: ele hoje lançou um cartão de crédito MIRACLE CARD! E vimos que a Arte de Viver tem uma rádio regional!) […] AMANHÃ NAO TEMOS HORA PARA ACORDAR. […] Albertinho acabou de matar a charada porque os indianos tem pele acinzentada. É por causa da poeira!”. Euforia impublicável.
Durante os três dias da celebração, filmamos no aeródromo de Bangalore, que foi cedido pela municipalidade à Arte de Viver. Lembro que no mesmo fim de semana, acontecia no Rio (mais) um show dos Rolling Stones em Copacabana. Nem ligamos. Nós lá estávamos na companhia do Rei de Gana (trajado a caráter, com cetro e vestimenta tribal); do presidente da Índia; do presidente da Eslovênia (?!); do presidente do Suriname. É certo que fizeram falta as celebridades hollywoodianas e o Bill Clinton, como havia sido especulado. Mas não se pode ter tudo. Nem mesmo o Guruji.
Ao final de sete dias, tínhamos dezenove horas filmadas em PAL (para melhor resolução) a 25 quadros, em formato HDV, pela câmera Z1 da Sony – que depois eu fui ver ser uma furada. (Não fazia diferença para a resolução ser em PAL, já que HDV são 1080 linhas em PAL ou NTSC. Me decepcionei bastante também com a qualidade do 25 quadros da câmera. Depois descobrimos que o que fica bom é o 24 quadros da Panasonic HVX-200.)
Pro Rio, pro mar
Ao contrário do fôlego do leitor, nosso périplo não termina aí. De volta ao Rio, e à realidade sem ashrams, o Guruji continuava a nos desafiar, como um esfinge. Preparando uma apresentação para dois gurus locais, o descrevi como “Maria Betânia meets Jesus Cristo“, uma indicação de quão interessante poderia ser filmar uma divindade com senso de espetáculo. Mas a verdade é que, uma vez de volta, demos uma boa desanimada frente ao tamanho do projeto. Havíamos realizado razoavelmente bem uma primeira etapa, mas ainda não “tínhamos” o personagem. Precisaríamos de mais tempo com ele, em lugares onde ele não estivesse cercado de multidões.
E como um sinal celeste, eis que Eng-An nos avisa que ele viria ao Rio no meio do ano de 2006. Durante os dois dias de sua estadia, o ponto alto foi o encontro entre Guruji e o deputado Júlio Lopes e o Secretário de Políticas Carcerárias do governo Rosinha Garotinho. Durante pouco mais de uma hora, no contraluz de uma suíte no Caesar Park, enquanto penteava seu longo cabelo marmoreado, Guruji expunha sua vontade de realizar cursos de respiração em presídios fluminenses (o que acabou de fato acontecendo, no Rio e em São Paulo). Ao final do encontro, enquanto a câmera estava ocupada com as despedidas protocolares, Raquel e eu testemunhamos uma voluntária da Arte de Viver recolhendo fios de cabelos deixados no sofá, enrolando-os em bolinhas e guardando-os, com todo o zelo, dentro do sutiã.
Por vários motivos não levamos a cabo essa história. Certamente, não ajudou quando minha mulher e eu não tivemos paciência de terminar o curso de respiração realizado no Hotel Gloria, um ano e meio depois das filmagens da Índia. Quanto à equipe, até conseguimos cooptar a Sophie Bernard para anos ajudar na formatação de um trailer promocional que seria usado para procurar patrocínio, e a Marcinha Watzl, sempre ela, para editar. No entanto, após a filmagem carioca nos sentimos assoberbados por um orçamento astronômico, e continuávamos morrendo de medo fazer proselitismo.
Hoje, pra mim ficou claro que o obstáculo intransponível foi não termos conseguido forjar com o Guruji a relação que gostaríamos. Porque em documentário é preciso escolher os personagens, mas é imperativo que se seja escolhido por eles também. Quando filmamos com ele no Rio, longe das hordas de seguidores, conseguimos a proximidade tão esperada. (Chegamos a dar carona pra ele na Kombi da produção!), mas nessa convivência mais próxima ficou evidente que pra ele nós éramos apenas mais uma equipe de filmagem. E aqui cabe uma crítica a mim como diretor por não ter conseguido entusiasmá-lo (irônica e etimologicamente, “encher de Deus”). Para ele, fazer um grande filme da maneira que sonhávamos, nunca foi de fato uma proposta. A exposição na mídia e a produção de “boas” imagens era o que contava para a Arte de Viver. Compreensivelmente até, ele não via aquilo como uma aventura, uma procura por um novo olhar sobre a tradição indiana de homens-santos. Não houve o pacto. E sem o pacto, não há documentário de personagem.
Acho que com este texto, infelizmente ou não, abro mão deste projeto. (A não ser, claro, que o Guruji ganhe o Prêmio Nobel. Aí, ficarei feliz de editar tudo isso em tempo recorde, em troca de alguns dinheiros). Mas, falando sério, foi uma experiência e tanto filmar e pensar sobre esses assuntos tão distantes de nós aqui. Uma coisa que ficou comigo é consciência sobre a importância da respiração para a saúde e para o bem-estar físico e mental. Sem balela. Não por acaso, logo após as primeiras filmagens, fui atraído para o mergulho em apnéia (aquele só com respirador, sem cilindro de ar comprimido). Isso sim tem feito minha cabeça. É uma yoga (apesar de nunca ter feito, mas ter vontade), uma pedalada, uma janela para um outro universo (submerso). Em seguida, comecei a praticar pesca submarina, incentivado pelo meu cunhado-esquisitão, e numa tentativa de impressionar meu sogro-mais-esquisitão-ainda. Aí se introduziu uma dimensão ética, deliciosa para documentaristas, pois existe (ou deveria existir) o mandamento: “se matou, tem que comer.” Não tenho dado muita sorte, mas no dia que cruzar debaixo d’água com um robalo, este príncipe do mar e do rio, saberei que tudo terá começado a dois oceanos daqui.